Depois de mais de um ano em isolamento por causa da pandemia, indígenas Awá-Guajá deixaram seus territórios para protestar contra o PL 490 e hoje estão doentes, em luto pela perda de um de seus membros mais queridos e pedindo assistência que não chega.
A história ia ser outra.
Chamava-se “Relatos de reparação de uma floresta em ruínas”. Seria no mesmo lugar, no Maranhão, estado no nordeste do Brasil, onde começa a Amazônia e também onde eclodiu sua destruição.
O Maranhão é a fronteira mais desmatada deste paraíso de plantas, animais e povos que está se acabando. O lugar onde mais brasileiros vivem em extrema pobreza e um dos estados onde a violência mais aumentou no último ano.

A história, no entanto, pretendia narrar algo mais que acontecia. Uma passagem luminosa no meio do horror que vivem os povos indígenas há muitos anos, recrudescidos nos últimos três por um presidente que está fazendo o possível para exterminá-los: Jair Messias Bolsonaro.
A história era, como esta, sobre os indígenas Awá-Guajá que vivem nessa floresta. São caçadores-coletores, parte dos últimos grupos do mundo com essas formas de vida sempre em movimento, andada. Há um número indeterminado deles que ainda permanecem isolados: não ignoram que há uma sociedade ordenada por um Estado, negam-se a se relacionarem com ela e conquistaram esse direito. Outros, uns quatrocentos, vivem sob a categoria de recentemente contactados: após padecer uma série de violências que implicou o assassinato de suas famílias, perseguição e cercamento, hoje vivem agrupados em aldeias onde estabelecem estratégias defensivas para não se perderem, para não deixarem de ser Awás.
São sobreviventes e vivem em quatro aldeias nos seus três territórios demarcados: Guajá (em Terra Indígena Alto Turiaçu), Juriti (em Terra Indígena Awá) e Awá e Tiracambú (em Terra Indígena Carú). Que estejam demarcados significa que, embora não deixem de pertencer ao Estado brasileiro, eles têm o direito exclusivo a viver nesses territórios e de tudo que contém nele. Também de tomar decisões e se organizarem.
A história começava assim, e esta não será diferente.
Em março de 2020, com o registro vivo sobre seus corpos do extermínio biológico provocado por doenças como a malária e a pneumonia sobre seus familiares, logo que souberam da Covid-19, os Awá-Guajá contactados fecharam suas aldeias. Ninguém poderia entrar nem sair, salvo por alguma emergência. Para esses casos, estabeleceram espaços de isolamento obrigatório: 14 dias em uma casa destinada para esse fim. Procuraram manter distância dos transmissores das doenças, os karaís (como os Awá chamam os brancos).
Durante aqueles longos meses, recuperaram a fluidez de muitas das suas práticas cotidianas interrompidas em tempos de “normalidade“, onde são forçados a viver nessas aldeias e, logo, a receber visitas constantes. No isolamento em meio à pandemia, voltaram a encher suas horas de caminhadas e caça. Assim, reencontraram seus ritmos, seus silêncios, sua alimentação, sua saúde, seus cantos.
Conhecer essas vidas contemporâneas às nossas, neste tempo de colapso em que vamos extinguindo nossas possibilidades de permanecer no planeta Terra, pode servir para evidenciar de uma maneira contundente que existem, hoje, outras formas de relacionamento possíveis, além daquelas que muitos de nós assumimos. Formas que não interrompem a vida, mas que se envolvem com ela, que a cuidam e a preservam. Como escreve o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, estes povos são “ilhas étnicas dispersas, separadas umas das outras por enormes extensões de um oceano bastante homogêneo em sua composição política (Estado nacional), econômica (capitalismo) e cultural (cristianismo)”.
Durante a pandemia, os Awá-Guajá abriram novos caminhos para si, espaços de reencontro feitos da floresta. E conseguiram manter-se a salvo: não tiveram nem um caso de coronavírus dentro da aldeia em todo 2020, nem mesmo um ano depois, quando o Brasil, sob a gestão de um plano sanitário que parecia dedicar-se à total propagação do vírus mais do que à sua contenção, chegava a meio milhão de mortos. Mas em julho de 2021, graças ao avanço de um governo que se revela um perigo para toda a humanidade, a Covid-19 chegou às terras dos Awá.

Quando o vírus chegou
Em terras Awá-Guajá, e apenas em 17 dias, o vírus matou uma pessoa. Um Awá-Guajá de olhos doces e um sorriso extasiante. Um homem de idade misteriosa, mas já avançada, chamado Karapiru. Cerca de quatro dias após sua morte – tempo que o governo tardou em realizar os testes nos outros indígenas –, houve 36 casos positivos, 11 casos em Tiracambu e 25 na aldeia Awá. Os testes não voltaram a acontecer.
Hoje, a maioria deles permanecem isolados e em um estado desesperador: não contam com assistência alimentar adequada nem produtos de higiene. Não estão protegidos, nem eles nem suas terras. “A situação é muito difícil”, resume Tatuxa’a, um dos líderes. “Precisamos de um médico em cada aldeia [atualmente há apenas um para quatro aldeias distantes por até 6 horas]. Precisamos de máscaras, álcool gel e alimentos. Se não, as pessoas vão morrer. Estão invadindo as terras, matam os animais, levam a madeira, e a gente não pode sair daqui para defendê-las.”
A comunicação se dá por áudios de WhatsApp. Nem ele nem eu temos um português fluido, no entanto, podemos nos entender. A única coisa que vejo de Tatuxa’a é uma foto, a que aparece em seu perfil. É um homem de meia-idade com olhar calmo, pele dourada e olhos puxados. Tem uma coroa de penas alaranjadas que envolve sua testa e um bracelete de penas vermelhas no braço esquerdo. Também usa colares de penas escuras e o torso desnudo.
Ele me diz que algumas pessoas só comeram arroz nos últimos cinco dias. Conta que tem filhos pequenos e posso escutá-los à sua volta, chorando ou pedindo alguma coisa cada vez que me manda uma mensagem. Tatuxa’a é amável, mas sempre parece no limite de suas forças e possibilidades. Talvez porque começamos a conversar justamente no dia em que esta história, a mais triste, começou, no dia 4 de julho. Nesse dia, Tatuxa’a, voltava junto com outros 80 Awá-Guajás de uma manifestação em que fecharam uma estrada. Por que romper esse isolamento tão exitoso, por que correr esse risco? A saída intempestiva tinha uma explicação contundente: a Câmara dos Deputados havia aprovado o texto final do projeto de lei 490, que ameaça os indígenas e a Amazônia à completa extinção.
“Estamos muito cansados. Este governo de militares está contra os indígenas, é um governo muito ruim para nós. Mas amanhã te conto, amanhã falamos melhor”, me disse.
O colapso é o Estado
No dia 15 de junho, representantes de diferentes comunidades indígenas de todo o Brasil foram convocados em Brasília para uma manifestação. Apesar dos infectados, a falta de oxigênio, de vacinas, os tantos mortos, a Conmebol escolheu o Brasil para celebrar a Copa América. O campeonato envolveu enormes gastos e foi inaugurado em um estádio vazio com um discurso pelas redes sociais. “A vida é um jogo coletivo, você só vive junto, você só ganha junto”, disse o locutor do que bem poderia ter sido uma ficção distópica, mas não, a distopia era a realidade velada pelo entretenimento anestésico, que bloqueia os receptores de interesse, empatia e sobrevivência.
Nesse contexto, a bancada ruralista da Câmara dos Deputados aproveitou para avançar com uma proposta legislativa de destruição massiva: o PL 490. A normativa já leva 14 anos somando artigos com um único objetivo: derrubar os direitos constitucionais dos povos indígenas e conceder autorizações para a expansão da produção de soja, de gado, da mineração e outros projetos extrativistas sobre a floresta.
O projeto de lei 490 propõe um marco temporal para a gestão de direitos: 5 de outubro de 1988. Caso se torne lei, os indígenas só poderão obter a demarcação de suas terras, que habitam há milhares de anos, se estivessem no território nesse mesmo dia. Se não estavam, deveriam comprovar que foram expulsos à força e iniciar um pedido de restituição ao lugar. “Este projeto de lei pede formas de comprovação de titularidade que não existiam 32 anos atrás, quando os indígenas eram tutelados pelo Estado brasileiro e não podiam ir por conta própria à Justiça”, diz Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental, uma das organizações que representa os direitos dos Awá-Guajá.
Isso não é tudo. O plano inclui o avanço sobre as terras que já estão demarcadas permitindo seu uso para a exploração, em caso de que sejam reconhecidas como áreas de “relevante interesse público da União” (característica com a qual definem todas as grandes obras, de represas a mineradoras). “Não é que hoje não se façam essas obras”, diz a advogada Batista de Paula. “Mas cada uma requer uma lei específica de autorização do Congresso com participação dos núcleos das comunidades indígenas. Com o PL 490, isso seria suspenso.”
Por fim, o PL 490 derruba uma política fundamental para os direitos humanos: nenhum contato com os povos indígenas que vivem em isolamento voluntário. Existem centenas de povos nesta situação, como os Awá-Guajá, que habitam as terras que estão fora das aldeias. “Hoje, a lei determina que, a menos que esses grupos demonstrem deliberadamente o desejo de fazer contato, o Estado não pode se aproximar”, diz Batista de Paula. “Mas o novo projeto de lei permite a intermediação com eles, por funcionários públicos, grupos evangélicos radicais e empresas privadas com interesses sobre suas terras.”
Contra tudo isso, contra a queda do céu que esmagaria seus direitos conquistados, os representantes indígenas estavam na rua no dia 15 de junho, dia da abertura da Copa América. Tinham suas vestimentas tradicionais, suas peles pintadas e a clareza ardente de quem denuncia que o ano 1500 nunca acabou. Que a conquista sangrenta continua derrubando árvores imensas, enchendo os rios de mercúrio, extinguindo belos animais e agora também a ponto de acabar com a humanidade entre leis perversas.

Alguns de seus líderes, como Dário Kopenawa, Kretã Kaingang e Sônia Guajajara, foram à Câmara dos Deputados para participar das audiências públicas. “Com o PL 490, esta Câmara estará decretando o genocídio indígena”, disse Sônia Guajajara.
Passaram-se dois dias, depois cinco. As partidas de futebol seguiram, assim como os indígenas nas ruas. Foram perseguidos pela polícia desde o dia em que chegaram, até que, em 22 de junho, foram atacados. Houve repressão, disparo de bombas sonoras, balas de borracha e gás lacrimogêneo contra idosos, mulheres e bebês. As ruas de Brasília pareciam o que o país é: um território que declarou a guerra contra seus povos.
No dia 25 de junho, o texto final do projeto foi aprovado na Câmara, concluindo, assim, o penúltimo passo formal que necessitava. Agora, será debatido em um parlamento que, em breve, poderá transformá-lo em lei.
Karapiru, a testemunha
Durante esses dias, os protestos se multiplicaram por todo o país. Porque se tem algo que os povos indígenas brasileiros conhecem é a brutalidade estatal, de invasores e projetos messiânicos. No caso dos Awá-Guajá, por exemplo, a história incluiu contato forçado, emboscadas com ataques a tiros, veneno para formiga em suas comidas e doação de roupas contaminadas com sarampo. Cada encontro é seguido da construção de estradas, da expansão de povoados e campos agrícolas, de desmatamento impiedoso e, principalmente, do maior empreendimento de exploração mineiro-ferroviário do mundo. Um trem de 14 mil vagões que demora horas para passar enquanto atordoa e espanta animais, para transportar ferro extraído do jazimento da Serra dos Carajás. Mina e trem de mesmo dono, a empresa Vale S.A.
Uma obra que encarna como poucas o projeto de integração e modernização do Brasil proposto pela ditadura militar (1964-1985). Regime repleto de mortes sem vestígios: “Não há evidências dos sequestros e assassinatos de indígenas porque essas pessoas que a ditadura assassinava não estavam registradas nos sistemas de burocracia estatal. Sem documentos, invisibilizados, os indígenas desapareceram duplamente na ditadura”, diz o arquiteto Paulo Tavares, parte do projeto Arquitetura Forense, que busca pistas do extermínio na floresta.
Milhões de indígenas apagados da história. Embora nenhum tenha saído ileso, alguns sobreviveram e tornaram-se um acontecimento perturbador para a narrativa de ordem e progresso.
Muitos povos indígenas continuam sendo esse acontecimento, como são os Awá-Guajá. E isso era Karapiru: uma testemunha de outro possível Brasil, parte de um grupo sem contato que um dia de 1978 foi atacado a tiros pelos que cobiçavam suas terras, a mando de fazendeiros. Toda sua família foi assassinada nesse massacre: sua companheira, seus bebês, seus familiares. Ele conseguiu fugir com um de seus filhos, mas que se perdeu no caminho, porque Xiramukũ, então com cerca de sete anos, ficou preso em um arame farpado e foi raptado. A notícia de um “índio perdido” chegou ao Estado brasileiro, que empenhou sua busca com funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai). Sem intérpretes à disposição, recorreram a alguém que acreditavam poder ajudá-los. Um jovem que, dez anos antes, tinha aparecido em uma fazenda e disse que se chamava Xiramukũ.
Era o filho de Karapiru.
A história foi contada muitas vezes e até transformada em filme, “Serras da Desordem“. Mas pai e filho nunca mais voltaram a viver juntos porque Karapiru foi transferido para uma aldeia onde partilharia a vida calma que o governo tinha planejado para o seu grupo étnico: outros Awá-Guajá que ele nunca tinha visto antes, mas que acabariam sendo seus amigos. Pessoas com quem ele nunca deixaria de lutar pelos seus direitos e com quem um dia de junho de 2021 concordou em juntar-se aos protestos que se multiplicavam no Brasil.
Como chamar a atenção da sociedade vivendo terra adentro?
Quando necessário, os Awá-Guajá caminham até os trilhos da Vale e os bloqueiam. Colocam seus próprios corpos, com seus arcos e flechas, e impedem a passagem do trem. Foi o que fizeram no dia 24 de junho, coincidindo com os primeiros protestos em Brasília.
De lá, enviaram fotos para Marina Magalhães, uma linguista que trabalha no registo da língua Awá-Guajá, e para Flávia Berto, a professora da escola, que também os assessora. Poucos dias depois, conta Magalhães, disseram algo inquietante: queriam viajar, quebrar o isolamento, para juntar-se à outra mobilização. “Levantamos nossas dúvidas sobre essa viagem, mas eles disseram que sentiam que o momento era crítico. A situação os levava a essa decisão.”
Em tempo recorde, no dia seguinte, contavam com tudo que precisavam para viajar: um ônibus, alimentos e produtos de higiene. Tudo fornecido pela Vale. A mesma empresa que perde fortunas a cada protesto dos indígenas em seus trilhos os transportaria por uns 100 quilômetros. A empresa ajudaria a comunidade isolada a encontrar outras pessoas em tempos de pandemia.


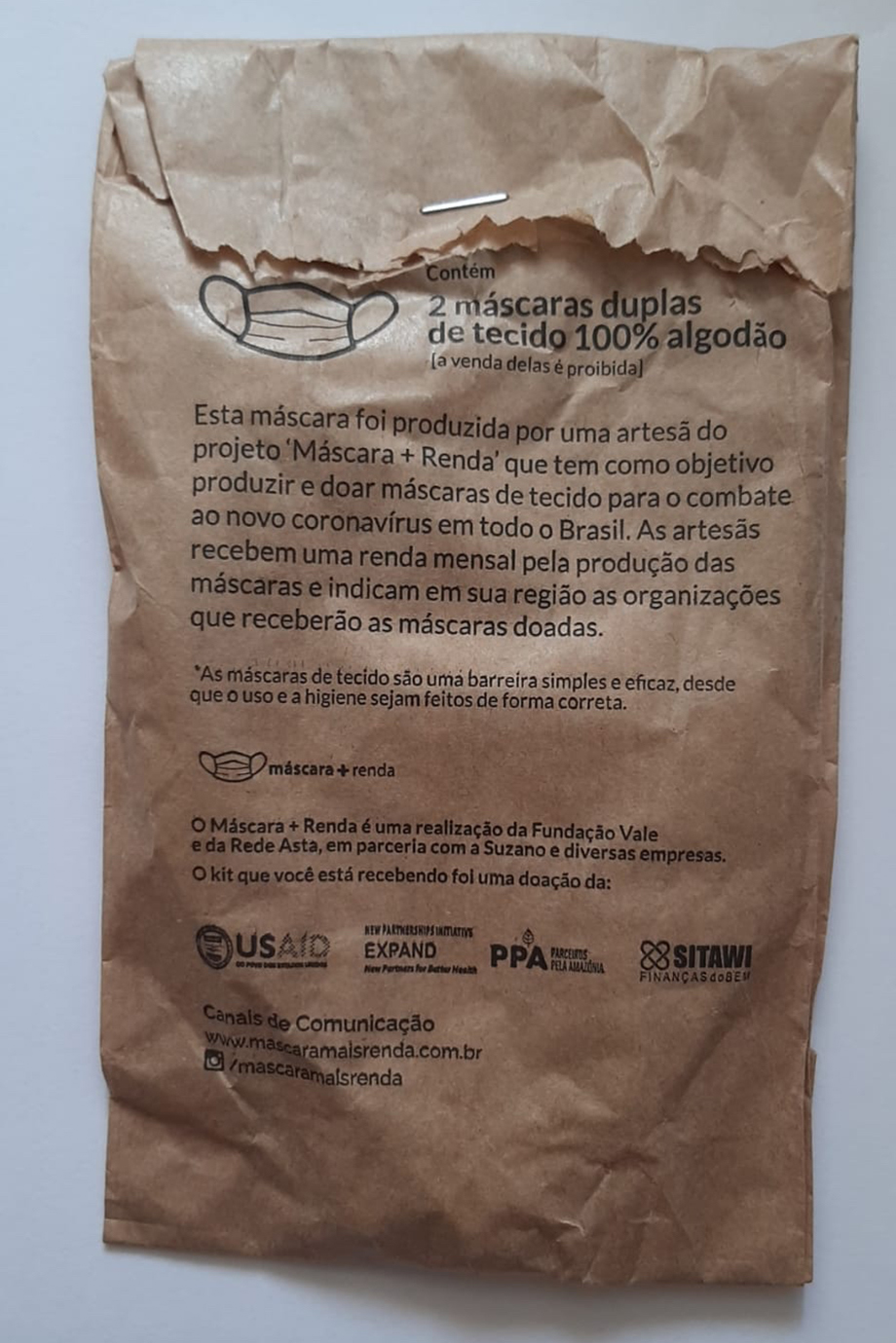
“Foi muito irresponsável. A empresa deveria saber ao que estavam expondo uma comunidade isolada”, diz Flávia, a professora. “Sequer deram máscaras adequadas”, diz ela, e envia uma foto: triângulos de tecido unidos por uma única fita elástica que foram entregues em sacos estampados com o selo da agência norte-americana USAid e instruções de uso que correspondem a outros modelos.
Consultada para esta reportagem, a Vale não nega a sua participação: “Atendemos parcialmente a um pedido dos indígenas, formalizado via ofício à empresa, condicionada a utilização desses materiais a ações que respeitem às normas vigentes, sem prejuízo ao direito de ir e vir dos cidadãos, dos serviços públicos disponibilizados e às atividades da própria Vale, reconhecendo e respeitando o direito à livre manifestação, conforme preconiza a nossa Constituição Federal”, diz uma mensagem enviada por e-mail.
Assim, em 28 de junho, os Awá-Guajá empreenderam a viagem que terminaria o confinamento atroz que hoje padecem, em que estão praticamente sem comida ou atendimento médico adequado, rodeados pelas diferentes formas de representação que a morte tem neste lugar chamado Amazônia.
Alma perdida
No dia 30 de junho, depois de fecharem a BR, voltaram às suas aldeias e seguiram instruções: “O que Vale e o pessoal da saúde explicaram”, diz Manã, um dos indígenas que fizeram a viagem. “-Isolamento? -Não, tirar a roupa que tínhamos viajado e tomar um banho.”
Já não existiam as unidades criadas no início da pandemia para isolar durante 14 dias os que tiveram que sair por alguma emergência. A Vale rescindiu esses contratos.
A dependência das comunidades com a empresa é explicada pela relação direta com a retração do Estado no cumprimento de todas as suas responsabilidades: no primeiro semestre de 2021, a entidade que deveria garantir os direitos dos povos indígenas, a Funai, executou apenas 1% do orçamento destinado para ações de “enfrentamento da emergência de saúde pública causada pelo coronavírus”. Não há equipe de saúde suficiente, não há medidas preventivas e não houve testes PCR a tempo para os Awá-Guajá. Eles não foram testados no dia em que voltaram à aldeia, apenas depois da primeira morte.
A decisão da comunidade foi que apenas os jovens, os mais fortes, deveriam ir às manifestações. Karapiru permaneceu na aldeia. Assim como os outros, ele tinha o calendário de vacinação completo, mas era o mais frágil. Pouco depois dos seus amigos voltarem do bloqueio da estrada, começou a sentir cansaço, dores no corpo, tosse. O mesmo aconteceu com outro idoso da aldeia, Kamairu.
Ambos foram levados para o hospital. Intubados. Kamairu ficou internado por uma semana. Karapiru morreu.
Nesse dia, Tatuxa’a saiu para caçar na floresta. Quando voltou, à noite, deram a notícia. E ele, a mim: “Karapiru já morreu”, disse, por áudio, com uma voz tão suave como um soluço. “Estamos muito tristes. Os Karaí [os brancos] já tinham matado toda a família de Karapiru. Ele sempre sentia dor, os karaí tiraram muito tempo dele, muito tempo. E a Covid veio e completou o assunto e ele morreu.”

Os Awá-Guajá não costumam falar dos que morreram, mas desta vez falaram, e falam. Como tantas outras coisas: forçados.
Karapiru não foi enterrado no cemitério indígena. As autoridades decidiram que a sua sepultura deveria estar no cemitério municipal, conforme as medidas de segurança.
Marina, a linguista, recebeu muitas mensagens durante esses dias. Todos falavam de seus sonhos: Karapiru estava mais uma vez perdido entre os brancos.
“Nos querem mortos”
Hoje, os Awá vivem esse luto. Muitos estão doentes, sem poder sair para caçar e praticamente sem nenhuma comida ou atendimento médico adequado. Enfrentam o mesmo vírus letal que encurralou toda a humanidade, mas com uma memória imunológica diferente que os torna muito mais frágeis. Sem um plano de proteção claro, vivem a pressão crescente para voltar às suas atividades, como a escola e as reuniões com funcionários.
Neste contexto, o governo avança com o seu plano de ação que tem o PL 490 como a bala de ouro. Em uma reunião virtual, deputados apresentaram a proposta a 41 diplomatas da América e da União Europeia. “O índio tem o dobro da terra que um produtor rural, mas não pode utilizá-la porque não há lei. Precisamos regularizar e dar dignidade e uma vida melhor, com acesso à saúde e educação, aos povos indígenas”, disse o deputado Sérgio Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).
Enquanto ele vendia espelhos coloridos ao poder, Tatuxa’a me mandava outra mensagem de áudio para esta história que deveria ser uma acontecimento de reencontro e reconexão, que agora deve esperar. Falava com firmeza, pausadamente, tentando fazer com que eu compreendesse cada palavra no difícil português que fala há poucos anos.
Não estão curando os doentes. As pessoas estão morrendo de problemas no pulmão, com pneumonia, isso que nos mata. Será que não tem remédio para a pneumonia? Será que o Ministério da Saúde não sabe? Queremos um médico, um especialista. Tem pessoas com o vírus. Treze pessoas estão com muita dor na cabeça, nos olhos, para tratar a doença da cabeça. Qual é o remédio próprio para a dor na cabeça?
Tatuxa’a, liderança Awá-Guajá
“O médico que mandaram não nos respeita, não respeita os mais velhos. Os funcionários que mandam são amigos de Bolsonaro, pessoas que não querem cuidar dos indígenas. Pessoas que nos querem mortos para trazer os nossos inimigos, o agronegócio, a mineração, os madeireiros. Porque eles não pensam bem. O governo não pensa de onde vem a água, para beber? De onde vem as árvores. As árvores protegem o rio. Levam as árvores e o rio morre e a terra morre atrás, também. E isso não pode acontecer.”
“Por quê, quem fez tudo isto?” pergunta Tatuxa’a. “Vocês falam ‘Deus’. Eu digo: há pessoas que vivem no céu. Os que viviam antes no nosso território e agora deixaram o território para nós. Para que possamos viver mais, alimentar-nos bem, para sustentar as nossas famílias. Era isso que queríamos dizer, para que você possa informar, também. Para que escutem a gente. Que é por isso que defendemos o nosso território, porque somos donos do território, que é indígena”.
No dia 4 de Agosto, Marina Magalhães, linguista, e Uirá Felipe García, antropólogo, apresentaram uma carta às autoridades solicitando assistência urgente e revisão dos protocolos de Covid para os Awá-Guajá.
No dia 5 de Agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da Grilagem (ou apropriação de terras): uma norma que permite a concessão de titularidade de terras públicas a privados que, hoje, as ocupam ilegalmente. Se a lei for aprovada pelo Senado, culminará na expulsão de comunidades inteiras de territórios e na expansão do agronegócio.
No dia 9 de Agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) denunciou o governo Bolsonaro por genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia.
Neste contexto, as aldeias Awá-Guajá estão considerando a possibilidade de se manifestarem de novo. A data será no final de agosto, quando o PL 490 será tratado formalmente. Para esse dia, ainda indefinido, asseguram que a Vale, a empresa que corta o seu território ao meio com um trem ensurdecedor de três quilômetros de comprimento, fornecerá novamente os veículos e a comida. Mais uma vez, serão transportados em outra viagem que hoje, com a variante Delta já em território brasileiro, anuncia uma ainda mais perigosa que a anterior.
Investigação jornalística e texto: Soledad Barruti
Edição: Paula Mónaco Felipe
Edição de fotografia: Miguel Tovar
Este trabalho foi realizado com fundos do Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center.




