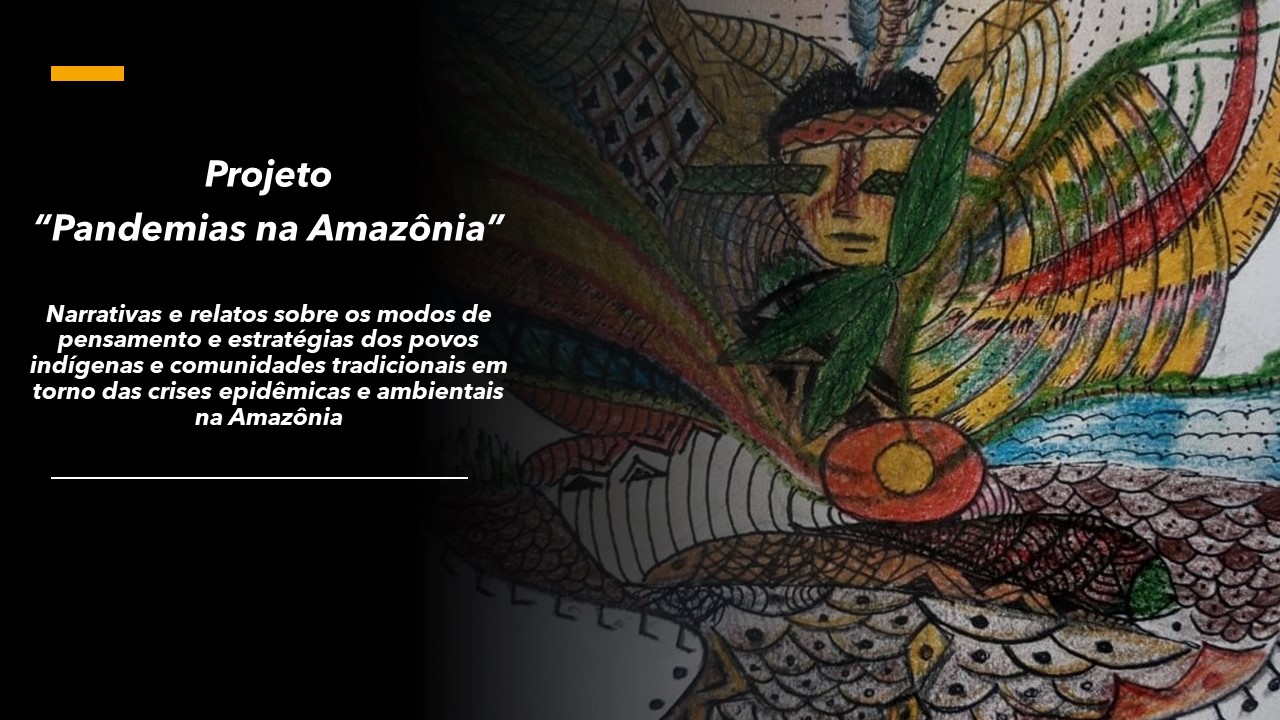Em tempos tão difíceis, as coisas se tornam mais difíceis ainda. Quando falamos em povos indígenas e da questão atual da pandemia, logo penso na minha região do Alto Rio Negro.
Em tempos tão difíceis, as coisas se tornam mais difíceis ainda. Quando falamos em povos indígenas e da questão atual da pandemia, logo penso na minha região do Alto Rio Negro.
Por Francineia Fontes Baniwa*
Só nesses primeiros meses do ano, perdi minha tia, irmã do meu pai; meus filhos perderam o avô por parte de pai; uma parente muito próxima perdeu o bebê no parto, e hoje recebo a notícia de que a esposa do meu primo Daniel foi a óbito na hora do parto, mas o bebê sobreviveu.
O Alto Rio Negro é umas das regiões do Brasil de mais difícil acesso. Quando falamos de saúde, é sempre muito preocupante. Temos cinco áreas imensas, rios com pedras e areia, cachoeiras, igarapés de difícil acesso, dias e dias para se chegar a uma comunidade. Agora, com essa pandemia, a situação de saúde tende a piorar.
Tenho tido insônia, não durmo bem, choro à noite. Isso, porque estou muito preocupada com o COVID-19. Já ouvi muitos relatos da boca de meus avós, tios, tias e meus pais sobre o sarampo, a catapora e a coqueluche dos tempos dos seringais. Ao anoitecer, na hora da comida, eles começavam a contar os acontecimentos do passado.
Lembro muito bem quando eles falavam que tinha sido o pior momento da vida deles. Eles faziam um buraco enorme e ali colocavam 5, 6, 7 pessoas, pois estavam cansados de fazer covas. No primeiro momento, havia choro para todo lado, depois, vieram os dias em que era só silêncio, pois já não havia mais lágrimas para chorar. Houve muitas perdas, muitas perdas mesmo. Uns perderam todos os filhos, alguns perderam maridos e filhos, outros perderam esposas e filhos. E alguns sobreviveram por sorte. E hoje eles lembram e afirmam,
“se não fosse aquela doença, nossos parentes estariam ainda aqui conosco.”
O que a morte significa nesse momento? Por que tiveram que passar por isso? Ou melhor: por que estamos passando por tudo isso de novo? Só quem já passou por isso, sabe o quanto é um assassinato coletivo para nós indígenas. Não é nossa culpa, mas vivemos em um mesmo espaço.
Há muito tempo, a nossa casa foi invadida por pessoas que só pensavam na riqueza, na grandeza, em querer ser dono de tudo, até do nosso território. Em nenhum momento o invasor pensou se estávamos de acordo com essa situação. Nunca pediram licença para entrar na nossa casa, foram entrando e se apossando do nosso lugar como selvagens. Foram entrando e nos matando com doenças que não conhecíamos.
Fomos mortos e nunca fizeram questão de lembrar nossas mortes, fomos apagados da história.
Durante as noites sem dormir, com o medo que me atormenta por dentro, lembro dos meus parentes, lembro dos 23 povos que vivem na minha região. Se essa pandemia chegar lá, será mais um assassinato coletivo. A situação da saúde já é precária. Perdemos parentes por motivos simples: falta de medicamento, de profissionais de saúde, de transporte, de comunicação. Nesse momento, reflito todos os dias sobre as epidemias do passado, sobre as mortes numerosas que já ocorreram por causa de inúmeras doenças do mundo não-indígena.
Não sabemos como curá-las, para nos protegermos só nos resta ir para lugares distantes. Temos nossas próprias doenças, que curamos com o tabaco do pajé e seus benzimentos. Mas esse mundo dos brancos (yalanawi) nos traz outras doenças mortais. Nossos anciões, nossos pais e nossos filhos não vão resistir, pois isso não faz parte do nosso mundo indígena. O que diria meu pai sobre isso? O que meus avós pajés diriam sobre o momento?
Eles de certo diriam: vamos começar pelo benzimento, pela história do começo do mundo, pelas narrativas. Vamos viajar através do benzimento percorrendo o mundo, por meio do pensamento, e entender o que está acontecendo. Meu pai, deitado na rede, diria: “pegue um banco e sente-se, pois a conversa será longa”. E nos lembraria: “respeite o território onde você vive, pois há muitas coisas que os brancos nunca entenderão, nem o significado do coletivo, nem a importância de ter nosso território protegido”.
Meu pai com seu cigarro, cada sopro, um silêncio, sempre preocupado com o dia de amanhã, pensando em seus netos. No final da conversa, pediria a ele que cantasse o canto de Adabi, entoado e dançado nos rituais de iniciação. Só assim entendemos como os corpos dos meninos brilham aos olhos de Kowai, no momento da dança ritual, e alegramo-nos em saber que tudo está valendo, bastando os meninos respeitarem as regras do resguardo. Hoje, estamos sofrendo as consequências pelos atos dos Yalanawi. Somos os donos originários desta terra, conhecidos como “índios” (ou será que assim nos chamam apenas para nos menosprezar?).
Somos nativos desta terra e temos orgulhos de pertencermos a diferentes povos, povos que estão sempre lutando pela sobrevivência, lutando para demarcar seus territórios, resistindo para continuar a existir. Com ou sem pandemia, vamos continuar gritando “nenhuma gota mais de sangue indígena”, “demarcação já” e “respeito às terras indígenas”.
Será que os yalanawi não têm ouvidos? Sentem, a conversa vai ser longa.
Sobre a autora
Francineia Fontes Baniwa é Baniwa do clã Walipere-dakeenai, do rio Içana no Alto Rio Negro, Amazonas. Atualmente, cursa o doutorado de antropologia social no Museu Nacional da UFRJ.
Pandemias na Amazônia é um mapeamento colaborativo das narrativas e relatos sobre os modos de pensamentos e as estratégias dos povos indígenas e comunidades tradicionais em torno das crises epidêmicas e ambientais na Amazônia.
O projeto desenvolvido pelo NEAI/UFAM (Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena) com o InfoAmazonia permite às comunidades e/ou seus mediadores inserir em uma plataforma digital conteúdo de texto, áudio e vídeo