Os batalhões do Calha Norte se instalaram a partir de 1985 de forma sigilosa durante o governo de José Sarney. Presença militar é vista como corpo estranho no interior das terras indígenas
A crise humanitária na Terra Indígena Yanomami se desdobrou nos últimos anos sem objeções do “braço forte, mão amiga” do Exército brasileiro. Nas regiões de Surucucu e Auaris, afetadas pela desnutrição extrema e mortalidade infantil, dois pelotões militares estão instalados e conforme denúncia de organizações indígenas e indigenistas, seus comandos se negaram a dar suporte à Polícia Federal no combate ao garimpo ilegal no território Yanomami durante os anos Bolsonaro.
Os pelotões, por sua vez, foram instalados a partir de 1985 pelo Programa Calha Norte (PCN), uma iniciativa urdida no apagar das luzes da ditadura militar (1964-1985) e colocada adiante, de forma sigilosa, pelo governo de José Sarney. Todavia, em 1986, por denúncia dos povos indígenas, o programa então em curso foi levado a público.

“Agora no governo Bolsonaro, os militares se negam a dar suporte a ações da PF contra o garimpo Yanomami mesmo tendo pelotões construídos pelo PCN na região, o de Surucucu e Auaris. Por omissão eles colocam em risco (também) o povo isolado Maxihatëtëma, com atividade garimpeira muito próxima da região por ele habitada”, explica o indigenista Francisco Loebens, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
Desde sua implementação aos dias de hoje, o PCN é criticado por se estabelecer sem contar com a participação comunitária, trazer impactos ambientais, ter pouco foco em questões sociais e criar conflitos a partir da militarização de territórios. Na hemeroteca do acervo indígena no Centro de Referência Virtual Armazém Memória, há dezenas de registros sobre as campanhas da sociedade civil e povos indígenas contrários ao Calha Norte.
O PCN, alocado no Ministério da Defesa desde 1999, tem como missão institucional “contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável na sua área de atuação”. O PCN abrange, atualmente, 619 municípios em 10 estados. No início, estava restrito às calhas dos rios Amazonas e Solimões.
Desde o fim da ditadura militar, ele tem servido para colonizar a Amazônia e facilitar a entrada de empresas na região, sobretudo do setor da mineração, além de garimpos. Ao mesmo tempo, recebe verbas públicas de emendas parlamentares e até mesmo do orçamento secreto com a liberdade de estabelecer convênios diretos para a aplicação destes recursos junto aos municípios.
para os militares, os indígenas significavam um risco à soberania do país. Não sei se de fato acreditavam nisso, provavelmente não, mas era o argumento usado para promover o esbulho das terras indígenas nas regiões de fronteira
Francisco Loebens, do Conselho Indigenista Missionário
Conforme analisa o integrante do Cimi, que atua desde a década de 1970 na Amazônia, “para os militares, os indígenas significavam um risco à soberania do país. Não sei se de fato acreditavam nisso, provavelmente não, mas era o argumento usado para promover o esbulho das terras indígenas nas regiões de fronteira”.
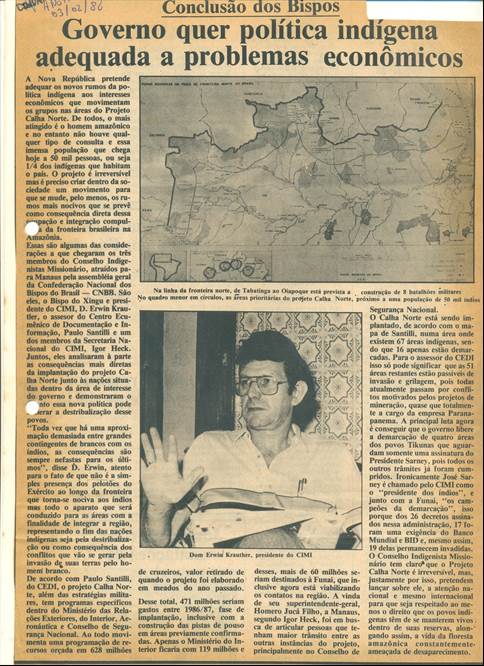
Em outras palavras, o PCN é um projeto de intervenção militar-desenvolvimentista que manteve na Nova República a presença na Amazônia tal como fora planejada pela ditadura. Ocupar a região com pessoas de outros cantos do país a partir de empreendimentos de mineração, garimpo, abertura de estradas e vilas. Ao mesmo tempo, emancipa os indígenas de sua condição autóctone e toma as terras desses povos.
No começo de 1987, o general Bayma Denis, chefe do Gabinete Militar, usava como argumento a soberania e segurança nacional para afirmar taxativamente que não seriam demarcadas terras indígenas na faixa de 150 km de largura a partir da linha de fronteira, e que o presidente José Sarney estava ciente. Arraigado de verve semelhante, Jair Bolsonaro prometeu não demarcar e, de fato, não demarcou terras indígenas em seu governo.
Na questão indígena, mesmo com o fim da Ditadura, se manteve acentuada ingerência por parte dos militares na garantia do território aos povos com o Calha Norte, mesmo que sem efeito no decorrer dos anos. Segundo o site do Ministério da Defesa, até os dias de hoje, o PCN engloba 85% da população indígena brasileira em uma área que corresponde a 99% da extensão das terras indígenas dispostas; 70,30% do território brasileiro está sob controle do PCN.
Calha Norte: mineradoras avançam
Nos últimos dias 12 e 13 de abril, no auditório Rio Alalaú, no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Manaus, houve a apresentação do resultado de uma pesquisa que levantou informações sobre a responsabilidade da empresa de mineração Paranapanema, implicada em duas ações judiciais movidas pelos povos Tenharim do Igarapé Preto.
A pesquisa comprovou o uso da força de trabalho indígena em condições análogas à escravidão, deslocamento de Terras Indígenas (TI), transgressão de cemitérios e agressões à cultura contra os povos Waimiri Atroari e Kagwahiva-Tenharim, no período da Ditadura.
O relatório final ainda não foi apresentado pelos pesquisadores coordenados pelo professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilberto Marques, com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Os pesquisadores se debruçaram sobre documentos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), do Sistema Nacional de Informações (SNI), de ações judiciais e realizaram entrevistas com os indígenas.
Max Tukano, liderança indígena, recordou aos pesquisadores o período em que a Paranapanema atuou no Alto Rio Negro, cuja presença foi facilitada pelo PCN. Entre 1984 e 1985, a empresa chegou a São Gabriel da Cachoeira.
Ele mesmo, Max, trabalhou para a mineradora. Abrindo estradas e explorando minas de estanho, caso da Mina do Pitinga, semelhante àquela operada na Terra Indígena Tenharim do Igarapé Preto, a mineradora chegou ao Alto Rio Negro com a ajuda dos militares.
Falavam que a empresa ia proteger a gente dos garimpos. O português convenceu os indígenas que o inimigo era os holandeses e que deveria expulsar eles. Só que o português também era invasor. É a mesma coisa: garimpo e mineração é invasão
Max Tukano, liderança indígena
“Falavam que a empresa ia proteger a gente dos garimpos. O português convenceu os indígenas que o inimigo era os holandeses e que deveria expulsar eles. Só que o português também era invasor. É a mesma coisa: garimpo e mineração é invasão”, diz Tukano.
Vivificação das fronteiras: colonização
Uma das estratégias do PCN era promover a chamada “vivificação das fronteiras” trazendo gente de fora, que teria o suporte das instalações militares – pelotões de fronteira – a serem construídas na região. Isso significaria desalojar as comunidades indígenas de suas terras, uma vez que praticamente toda a região de fronteira nos estados do Amazonas e Roraima era habitada por indígenas.
“Juntamente com a implantação dos pelotões de fronteira começou a ser aplicada a política de demarcação de terras indígenas que fazia uma distinção entre indígenas aculturados e não aculturados. Terras menores seriam demarcadas na forma de Colônias Indígenas, para os “aculturados” e para os demais seriam demarcadas áreas indígenas”, explica Loebens.
A demarcação das terras indígena começou a ser feita no alto Rio Negro e nos Yanomami em ilhas – Colônias Indígenas e áreas indígenas intercaladas por florestas nacionais. O projeto militar de demarcação não logrou êxito. As terras indígenas Yanomami e Alto Rio Negro foram demarcadas de acordo com sua ocupação tradicional em 1992 e 1988, respectivamente, somando 16,6 milhões de hectares.
“Sob o aspecto do que queria como “desenvolvimento”, o Calha Norte alcançou poucos resultados, porque os indígenas impediram que ele se utilizasse de suas terras. A demarcação em colônias, áreas e florestas nacionais das terras indígenas do Alto Rio Negro e Yanomami depois foram demarcadas de forma contínua, de acordo com a ocupação tradicional”, ressalta Loebens.
Resistência: o projeto indígena
O Cimi, quando tomou ciência do teor do projeto, de como ele agredia os direitos indígenas e do esbulho de terras que queria promover, além de forte denúncia pública, levou à informação e o debate para as comunidades. O Alto Rio Negro, que se transformou numa espécie de laboratório do projeto militar e com a presença das mineradoras Paranapanema e Goldmazon, recebeu especial atenção.
“As comunidades indígenas da região se articularam, criaram a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e conseguiram reverter a demarcação restritiva de suas terras, que prosseguia mesmo após a Constituição de 1988”, lembra o indigenista. Na prática, o regime ainda era o militar para os povos indígenas da Amazônia e a situação os obrigou a adotar medidas de resistência inerentes aos seus projetos de vida em rota de colisão com o PCN.

Uma das estratégias das comunidades foi a de arrancar os marcos da demarcação das Colônias Indígenas. No entanto, na proporção que a resistência se estabelecia ao PCN, a repressão não deveu em nada à Ditadura Militar. Na tentativa de impedir que as lideranças indígenas tivessem acesso a análises críticas ao PCN, os militares retiraram à força uma equipe de assessores jurídicos e de comunicação do Cimi Norte I de uma Assembleia Indígena, em Taracuá, em 1989.
Os militares continuavam ditando os rumos da política indigenista, sobretudo na Amazônia. “O PCN começou a ser implementado de forma sigilosa e veio a público em 1986, depois de um vazamento no interior da Funai. Coincide com uma perseguição da Funai a missionários do Cimi, que em 1985 foram expulsos da Terra Indígena (TI) Waimiri – Atroari, do Vale do Javari e da TI Yanomami”, contextualiza Loebens.
Pelotões de fronteira: projeto em curso
Os maiores transtornos que o PCN causou nas comunidades indígenas são, sobretudo, as instalações dos pelotões de fronteira, corpos estranhos no interior das terras indígenas, interferindo na vida das aldeias. Para o indigenista, as unidades militares nas terras indígenas defendem uma leitura integracionista, apesar do que está disposto na Constituição Federal.
A visão do indigenista se respalda em um caso exemplar: o pelotão de Uiramutã. A estrutura militar deu suporte a uma pequena vila, formada a partir de garimpo ilegal, no interior da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, que posteriormente se tornou a sede do município de Uiramutã, cujo perímetro urbano ficou fora da demarcação da Terra Indígena e até os dias de hoje segue sendo razão de conflitos intermitentes entre indígenas e não-indígenas.
Essa doutrina militar retornou em alta voltagem durante os anos do governo Bolsonaro. Além de não ter demarcado nenhuma terra indígena e só ter colocado adiante procedimentos implicados em decisões judiciais, militares que ocuparam cargos no governo federal incentivaram a invasão de terras indígenas por garimpeiros e grileiros ao modo da Ditadura Militar e da visão integracionista do Calha Norte.
Este é o contexto que levou a decisões como a do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que em dezembro de 2021 autorizou sete projetos para o garimpo de ouro em uma das regiões mais preservadas da Amazônia, perto de uma cidade que abriga 23 povos indígenas. Em dezembro de 2022, Heleno autorizou novamente a exploração de ouro numa área de 9,8 mil hectares ao lado da Terra Indígena Yanomami, já invadida por mais de 20 mil garimpeiros.
“Sem dúvida os militares têm uma parcela de responsabilidade no aumento do preconceito contra os povos indígenas como se verifica nas redes sociais na medida em que endossaram o que pregou o ex-presidente Bolsonaro, de não demarcar terras indígenas e de se omitir na proteção desses territórios, que reforça a velha ideia de que esses povos são obstáculos a serem removidos”, destaca Loebens.
Para ele, no governo de Bolsonaro ganhou força a ideia de que “desenvolver” a Amazônia significa destruir o que existe nela – povos, florestas – para beneficiar interesses de fora, “ao invés de pensar a Amazônia desde o que nela existe, inclusive a partir da experiência milenar dos povos indígenas de convivência com este bioma”.
Calha Norte: orçamento secreto
Nos últimos anos, o PCN também se expandiu do ponto de vista da atração de recursos e abrangência de atuação. Em 2022, todo o Tocantins, além de mais 86 municípios do Pará, foi incorporado à área de cobertura do PCN, que já atende todo o Norte, além de Mato Grosso e parte do Maranhão e de Mato Grosso do Sul. Se por isso ou se por interesse estratégico militar, o PCN acabou se tornando um dos preferidos das verbas de emendas parlamentares da região da Amazônia Legal, inclusive as do chamado orçamento secreto.

Conforme noticiou O Estado de S. Paulo em maio de 2022, deputados e senadores repassaram ao Calha Norte R$ 284,6 milhões do orçamento secreto, mais do que havia sido reservado para as emendas parlamentares dedicadas à Defesa no início daquele ano. Não obstante, houve um aumento de 40% de cidades atendidas pelo programa durante os anos Bolsonaro. O Exército pode pelo Calha Norte fazer convênios direto com prefeituras para comprar equipamentos e executar obras.
Em uma nota do Ministério da Defesa publicada em abril do ano passado, a pasta frisa sobre as verbas de orçamento secreto e emendas : “a missão do Ministério da Defesa vai além da defesa da Pátria e da soberania nacional. Inclui contribuir para a ocupação e a integração do território, bem como a promoção do desenvolvimento nacional. Portanto, a defesa do País é indissociável de seu desenvolvimento, com prioridade para a faixa de fronteira, a área da Amazônia Legal, especialmente as regiões com vazios demográficos e baixos níveis de atividades econômicas”.
Esta reportagem faz parte da série ‘Memória Interétnica’, com conteúdos que retomam casos de violações contra indígenas documentados por Centro de Referência Virtual Indígena e Cartografia de Ataques contra Indígenas, conectando-os aos temas da atualidade. O projeto é uma realização do Instituto de Políticas Relacionais em parceria com o Armazém Memória e tem apoio da Embaixada Real da Noruega em Brasília.






Os militares brasileiros não respeitam o Estado brasileiro. Exercem a tutela arrogante da soberania popular prevista na constituição. Essencialmente, são autoritários. Por tudo isso, os dirigentes e ideólogos das forças armadas brasileiras são, essencialmente, CORRUPTOS.